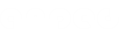Alexandre Filordi de Carvalho - DED-UFLA/PPGE-UNIFESP
Carlos Eduardo Ribeiro - CCNH/Filosofia-UFABC
(Empty Painty – Marleen Hannon)
Não seremos mais que apertadores de botões - Burroughs
Imaginem vocês se o atual ministro do Meio Ambiente, num acesso de engajamento na questão ambiental, resolvesse emitir uma portaria organizando um grupo de trabalho para construir estratégias de ampliação e de melhoria na defesa da Amazônia, das terras indígenas e de toda a sua riqueza; se a ministra dos Direitos Humanos propusesse um grupo técnico, em parceria com a sociedade civil, para a construção de indicadores e mecanismos de prevenção e de combate à LGBTQIA+fobia; ou ainda, se o ministro da Economia organizasse um grupo de trabalho visando a exterminar a precarização e a informalidade no trabalho, além de se produzir força-tarefa contra a mão-de-obra sem direitos sociais e carteira de trabalho assinado. Impossível? E se fosse o Ministério da Educação querendo “expandir” a Educação Superior?
Ocorreu de entrar em vigor no dia 03 de novembro, deste ano, a portaria n° 34, da Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC). Ela instituiu um grupo de trabalho consultivo centrado na reorganização da modalidade da Educação a Distância, doravante, modalidade prioritária para se pensar a construção de estratégias de ampliação de oferta de cursos em nível superior nas Universidades Federais. Num acesso de “democratização”, o atual governo decidiu enfim incentivar a balbúrdia e expandir a Educação Pública Superior? Sob possessão das forças de combate contra o que é anticientífico, enfim, o governo se movimentaria para dar à Educação Superior acesso universal? Hipnotizado, o governo, que corta investimentos públicos da e na Educação sistematicamente, passou a defender a Universidade Federal como agente público de garantia ao direito à educação, no lugar da meritocracia?
De fato, o que está em curso é um processo de solução técnico-burocrática-oportunista para a expansão e a democratização da Educação Superior no Brasil, com todos os poréns, por meio da ampliação da oferta de cursos. Quem seria contra tamanha vantagem? Quem seria contra expandir e democratizar a Educação Superior? Alguém não seria patriota, a ponto de condenar tal avanço? Na posição aparentemente inequívoca e inegável da asserção, a possibilidade já situa quem fala num regime de aceitabilidade de seus termos. Contudo, o lugar da crítica – precisamente a do pensamento e a do julgamento – sabe perfeitamente que nenhuma tecnocracia um dia “democratizou”, não importa o quê, sem ter danificado profundamente o próprio bem que prometia garantir. De Weber a Marcuse, passando por Antunes, Stengers, Berardi e Crary, o diagnóstico seria hipertrófico.
Os tempos atuais, entretanto, pertencem à metástase do senso comum, fantasiada de recepção novidadeira, numa espécie de wishfull thinking, que insiste em desconsiderar a fortuna crítica necessária ao que muitos autores, na deflagração conectiva dos anos de 1990, peixes dentro do aquário que eram, conceberam. Noções de rede, A.I., conexão, conectividade, competências, inovação, aprendizagem tecnológica et caterva continuam sendo referenciadas sem recalibragem e contextualização dos coeficientes de impactos de sujeição e de programação comportamental aí imbuídos. Nesse caso, a teoria fora do contexto, servindo para qualquer pretexto, é função metabólica fundamental para os efeitos quase sempre desastrosos à democracia, aos direitos e às garantias sociais, como bem problematizam Bey, Bridle, Campbell & Twenge, Carr, Gazzaley & Rosen, Guattari, Lanier, Sloterdijke, Snowden, Turkley, Wolf, Ziblatt & Levitsky, Zuboff etc.
A formação desse “inofensivo” grupo de trabalho é um desrespeito com a inteligência alheia, pois ele irá operar como uma think tank encomendada. É preciso dizer não a esse modus operandi. Aliás, por que o Sesu/MEC não solicitaram a todas as Universidades Federais indicação de representantes para a composição de referido grupo de trabalho? Será que seus membros “representam” o que pensa o coletivo das Universidades Federais? Trabalharão em nome de quem; falarão em nome de quem?
Nesse horizonte, eis uma armadilha conhecida: por meio da velha estratégia colonialista de colocar os colonizados para disputar suas misérias, o atual governo passa agora a remontar as regras do jogo perverso de como o financiamento das Universidades Federais, via “eadização”, dar-se-á. Ou alguém duvida que o próximo capítulo será financiar e favorecer aqueles que “eadizarem” mais? Essa isca está lançada na condição de bons promotores da acessibilidade educativa, sonoridade complacente do canto das sereias da privatização branda da Universidade Pública ou do ideário empresarial nela parasitado.
Há uma arena perversa em construção. Dela também se resultará em colocar o sistema Federal contra o sistema Federal; a partir dela, de igual modo, se instigará uma assimetria paranoica: os docentes julgados como padecendo de artrite didático-pedagógica – os démodés – e os que se autoassumem como “inovadores”, pouco importando a afasia teórico-conceitual, incapazes de, num estado de arte sério, comprovar que a presença humana e a qualidade dialógica in corpore, na experiência e na socialização em sala de aula, não sejam mais potentes ou produtivas que a EaD para a relação ensino-aprendizagem.
Assim é que, em meio a absoluta exceção histórica da atual pandemia, a mão encontra a luva: sob a aparência conveniente de “consolidar” o direito à Educação, vai se (con)fundindo um direito social ao mero e precário oferecimento de formações à distância ou semipresenciais. Ao cabo, essa experiência tem se reduzido numa espécie de cloroquina pedagógica, serve para tudo e resolve tudo, a despeito de: a qualidade da internet na realidade tupiniquim e o fiasco de acessibilidade; o fosso econômico que impacta na qualidade de equipamentos cujas obsolescências são maiores que o aumento de poder de compra da população; a sujeição às imposições de sistemas operacionais e às plataformas proprietárias. Resultado simples: em tempos de choque, como mostrou Naomi Klein, o que nos foi suscitado como tábua de salvação temporária passa a se transformar em uma náusea permanente, filha do oportunismo. Náusea sentida por muitos de nós, docentes, no silêncio que se segue à pergunta: “vocês estão me ouvindo?”; “alguém quer dizer algo?” – silêncio.
Entretanto, para que o provisório e o emergencial pandêmicos se convertam definitivamente na “nova” educação híbrida, em nome de “democratizar” a Educação Superior, também é preciso democratizar a precariedade.
Uma ressalva importante, porém. Nem todos os movimentos políticos ou governos autoritários são totalitários. Temos de ter cuidado para evitar de cair simplesmente na denúncia moral que expurga e só faz da crítica uma reiteração da má-consciência. Todavia, desde certo Eichmann em Jerusalém, sabemos que qualquer ocupação autoritária do espaço público, cuja finalidade é corrompê-lo e distorcê-lo por completo, exige a subjetividade burocrática, pessoas ordinárias, por vezes elegantemente autoritárias, com certo grau de apatia e eficiência técnica, que se disponham a organizar com perícia novas marchas da “morte”. A mercantilização remota da Educação Pública precisa contar com gente suficientemente “bem-intencionada”, que se apresente como engrenagens eficientes ou peça útil e voluntariosa à burocracia servil. Pessoas dispostas a se conectar no ativismo digital em Educação.
Em O capitalismo como religião, Benjamin destacou como o capitalismo sempre esteve a serviço da resolução das mesmas preocupações, aflições e inquietações a que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer resposta. “Milagre” do crescimento; fazer sacrifício; ser culpado por não ter sucesso na vida – sempre o ato expiatório do indivíduo neoliberal; seguir o dogma econômico; unir-se em torno de uma fórmula católica – universal – para não “ficar para trás (o velho arrebatamento dos eleitos); a suposição da onipresença, onisciência e onipotência do progresso e do lucro; enfim, a trindade patrão-empregador-mercado, isso tudo é sobejamente óbvio. A partir daí, doravante, a cruzada em curso dos cavalheiros e damas da EaD, com suas lanças e estratégias em riste, move-se para defender e conquistar a outra educação, com celeridade quase miraculosa.
As perguntas que nos restam: o que ocorrerá com os apóstatas, os hereges e os infiéis da EaD?; com os insolentes e desviados da doutrina?; com os que não querem ser réplicas adaptativas da mentalidade Google™ e que não consideram o currículo uma plataforma?; com os que concebem a educação para além de uma subjetividade voluntariosa-empreendedora e se recusam a ministrar aulas à prova de vida? O que faremos, a bem da verdade?
Será que os errados somos nós mesmos, que insistimos na defesa das experiências educativas contra a precarização humana?; que concebemos a educação como formação (Bildung) contra a normose adaptativa demandada pelo sistema religioso-capitalista?; que sustentamos, a partir do rigor científico, que a presença humana não ocorre sem relação simbólica, imaginária e realística, e não por telas frias, gagos cliques e algoritmos? Quem sabe, não seja miopia nossa não abrirmos mão de uma experiência educativa como política de afeto, implicada com transformar os modos de ser, pensar, sentir, fazer e relacionar-se com o mundo? Talvez sejamos nós os errados: a grande anátema, os desviados da fé perante os milagres de um Novo Testamento: EaD – esta Educação aderente aos dogmas.