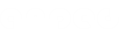por Alexia Pádua Franco -(UFU), Adda Daniela Lima Figueiredo Echalar (UFG), Andrea Brandão Lapa (UFSC), Kátia Morosov Alonso (UFMT)*
Em meio à crise da Covid-19 e um ano inteiro em “ensino emergencial remoto”, tanto no ensino básico como no superior, pesquisadores em educação se perderam em uma discussão que pouco possibilitou avanços sobre a validade do ensino não presencial. O debate voltou a tratar temas que não são novos, como a integração de tecnologias à educação e, a despeito das pesquisas e dos avanços em campos de conhecimento como os do GT16 (Educação e Comunicação), a discussão recaiu em pré-conceitos que pensávamos já terem sido superados.
Na área da Educação, assistimos à disputa de narrativas que tanto criticamos nas redes sociais, colocando em campos opostos aqueles que deveriam estar juntos buscando alternativas para a atual conjuntura. Muitos pesquisadores permaneceram no debate polarizado entre a apologia às tecnologias e na aversão a elas, enquanto professores de todos os níveis se viram abandonados à própria sorte, tendo que fazer um investimento próprio em formação sobre os usos pedagógicos dos recursos tecnológicos, bem como em equipamentos e infraestrutura.
A pandemia vista como uma potencialidade de mudança provocada pela crise social (HARARI, 2020), pode vir a promover uma aceleração da história. O momento que vivemos colocou em pauta temas que há muito são discutidos e negociados na sociedade, mas que agora estão amplificados, tencionando áreas de conhecimento e de atuação. No entanto, se torna urgente tratar algumas concepções e reforçar alguns fundamentos a fim de promover o diálogo para a busca de sentidos comuns para a educação pública de qualidade na (durante e pós) pandemia, seja ela na modalidade presencial ou na modalidade a distância.
A equivocada dicotomia entre a modalidade presencial e a distância na Educação
O debate dualista entre modalidades já não responde à dinâmica do mundo contemporâneo. De uma maneira geral, vivemos um híbrido de online e off-line e esta confluência, que se desenvolve na vida cotidiana, não está presente na educação escolar. A EaD se efetiva como modalidade de ensino desde a LDB, mas se faz de modo instável, por meio de programas e financiamentos temporários. Nas brechas deixadas pelo Estado, há o crescimento da EaD massiva na rede privada de ensino, sob a lógica neoliberal. Isto gera preconceitos generalizados à integração de TIC, os quais ignoram múltiplas e diversificadas experiências, além das variadas pesquisas realizadas por filiados da ANPEd.
Em dados do INEP de 2018, temos que 40% do total de ingressantes no ensino superior está matriculado em cursos da modalidade a distância. Dessas 3,5 milhões das matrículas, apenas 60 mil são ingressantes no setor público, isto é, pouco mais de 4% da educação feita na modalidade a distância é feita por instituições públicas. Se por um lado é possível observar uma tendência à precarização do ensino superior no Brasil quando vinculado aos cursos oferecidos pelos 10 maiores grupos privados, com baixa avaliação no ENADE (BIELSCHOWSKY, 2020), de outro, e a despeito do financiamento precário e da dependência de bolsas sem reajuste, cursos superiores públicos na modalidade EaD têm contribuído para a democratização do ensino superior. Além disso, têm já certa maturidade na experimentação e na pesquisa sobre a educação online, com muito conhecimento produzido sobre práticas pedagógicas que não estão pautadas pela eficácia econômica e que valorizam, por exemplo, a interação e a mediação docente no processo de ensino e aprendizagem.
A qualidade dos cursos na modalidade a distância, assim como dos presenciais, não pode ser medida pelo pouco compromisso de alguns grupos educacionais e sem distinguir o “joio do trigo”. Por isso, afirmamos que demonizar a integração de tecnologias à educação sem considerar a experiência qualitativa da educação a distância desenvolvida em universidades públicas e confessionais é um retrocesso que não podemos, neste momento, nos permitir. Logo, rotular a educação pelo seu adjetivo ou ter como centro desta qualificação o uso ou não da tecnologia para desenvolver os processos de ensino e aprendizagem, não deixa de ser uma abordagem simplista, de viés instrumental e funcionalista.
A perspectiva crítica da tecnologia já mostrou que é possível reconhecer as consequências catastróficas do desenvolvimento tecnológico e, ainda assim, buscar fortalecer nossas instituições para promoverem uma produção colaborativa de conhecimentos múltiplos em uma integração crítica das TIC que estabeleça um uso democrático delas. Isto é, criticar e resistir ao domínio "do capital" não, necessariamente, acontece apenas pela resistência ao uso das tecnologias, mas também pela integração crítica e criativa delas, como defendemos.
A pandemia, o ensino remoto e a educação pública pós-pandemia
De um lado, alguns esperam a pandemia passar para voltar à "normalidade" do ensino presencial, que ainda hoje é inviável. Como se fosse possível e desejável, voltar às rotinas anteriores que já não satisfazem as demandas sociais para formação cidadã e profissional de nosso tempo, e, certamente, não o serão após a pandemia. De outro, alguns aproveitam a oportunidade para desintegrar as escolas e as universidades, considerando especialmente o avanço das grandes empresas privadas que já se infiltraram também nas instituições públicas. Como nos alertou Nóvoa, acreditar que nada vai mudar ou que tudo vai mudar rapidamente são duas ilusões igualmente absurdas, posto que "a questão essencial nunca é sobre os instrumentos, é sempre sobre o sentido da mudança" (NÓVOA, 2020, s/n).
Por esta razão é importante salientar que, não importa qual o rumo da mudança, nosso posicionamento deve ser irrestrito quanto à defesa da educação pública, nas modalidades presenciais e a distância, pautada na mediação intencional de docentes qualificados, com adequadas condições de trabalho, no uso de plataformas de código aberto e softwares livres, sob controle de órgãos públicos. Para isso, é necessário que analisemos as experiências acumuladas (não só na pandemia, mas na EaD também), sobre os limites e as possibilidades de processos de ensino e aprendizagem construídos com o uso pedagógico das tecnologias. Análises essas baseadas em pesquisas científicas que desconstroem equívocos e pré-concepções em prol de pensar ações em diferentes instâncias educacionais, e que é a função social maior de nossa Associação, para além de cada Grupo de Trabalho que a constitui.
Defender uma EaD socialmente referenciada, de qualidade, gratuita e pública, não significa absolutamente abdicar dos ideais que fundam a ANPEd, ao contrário, é trazer para o debate a necessária compreensão sobre formação que tem possibilidades e limites como todas as outras. Compreender e se apropriar disso requer pesquisa, debate, problematizações que vimos constituindo ao longo dos anos. O GT 16 da ANPEd é prova disso. Esse debate não é alienígena ao campo da educação; pode ter sido secundarizado, mas não desconhecido.
Assim, a ideia de campos opostos entre presencial e não presencial é cortina de fumaça a ser rompida. Diante disso, acreditamos ser imperioso que a ANPEd abra o debate sobre os alcances, possibilidades e limites do uso intenso das TIC na educação, sem preconceito. A pandemia da Covid-19 mostra que adiar o debate ou negar as pesquisas e conhecimentos produzidos por nós nos últimos 20 anos é inaceitável e contraproducente. Estamos todos juntos na defesa de uma educação pública, gratuita, laica, de gestão pública, plural e com qualidade socialmente referenciada, independente da modalidade, etapa ou nível de ensino.
Referências
BIELSCHOWSKY, Carlos Eduardo. Tendências de precarização do ensino superior privado no Brasil. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico científico editado pela ANPAE, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 241-271, ago. 2020.
HARARI, Yuval Noah. “Guru” dos nossos tempos, aponta os cenários pós-pandemia. GELEDÉS Instituto da Mulher Negra, 28 mar.2020. Em Pauta. Entrevista Luiza Sahd do TAB. Disponível em: https://www.geledes.org.br/guru-dos-nossos-tempos-yuval-harari-aponta-os-cenarios-pos-pandemia/. Acesso em: 16 set. 2020.
NÓVOA, Antonio. E agora, Escola? Jornal da USP, 19/08/2020. Disponível em: jornal.usp.br/?p=347369 Acesso em: 7 dez. 2020.
*
Alexia Pádua Franco - Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia (FACED UFU), no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED); Coordenadora do GT16 (Comunicação e Educação) da ANPEd Centro-Oeste e Coordenadora Adjunta da UFU junto a UAB. Membro do GEPEGH (Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de História e Geografia) e do GTECOM (Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias, Comunicação e Educação).
Adda Daniela Lima Figueiredo Echalar – Professora da Universidade Federal de Goiás (UFG) no PPG em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM) e do Fórum de Licenciatura. Líder do grupo de pesquisa Kadjót (Grupo interinstitucional de estudos e pesquisas sobre as relações entre as Tecnologias e a Educação).
Andrea Brandão Lapa - Professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Docente no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE). Líder do grupo de pesquisa Mídia-Educação e Comunicação Educacional - Comunic.
Kátia Morosov Alonso - Professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Instituto de Educação da UFMT. Líder do Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos Sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação - LêTECE.