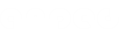O desmatamento na Amazônia e nossas relações com a natureza: provocações ao presente
O desmatamento na Amazônia e nossas relações com a natureza: provocações ao presente
Paula Corrêa Henning1 e Shaula Maíra Vicentini Sampaio2
No ano que nos chegam as mais tristes notícias a respeito do desmatamento na Amazônia, nos vemos confinados em nossas casas, criando novos modos de existir e conviver com nossa sociedade e o mundo que habitamos.
O desmatamento na nossa maior floresta, com uma riqueza ambiental inigualável parece ter mobilizado o país. Inúmeros grupos que lutam pela proteção ambiental levaram adiante reivindicações e protestos. Esses movimentos suscitam, pelo menos, preocupações a respeito das sérias perdas provocadas por interesses econômicos que desrespeitam a legislação ambiental do nosso Brasil. Agronegócio, extração de madeira, empreendimentos estatais parecem ser o propósito governamental que, nem por alguns instantes, considera os graves impactos para o ambiente acarretados pelo projeto destruidor do atual governo. Produtores rurais, pescadores, povos indígenas, flora e fauna sofrem as consequências de tal desmatamento. O bioma se vê degradado e sendo levado à ruína. Humanos e não-humanos, como nos convida Bruno Latour (2016) a pensar, são desconsiderados enfrentando escassez e morte em tempos de desenvolvimento econômico acima de tudo.
Pensar nesse sério problema ambiental que vivemos no território brasileiro e suas decorrências políticas, nos parece extremamente necessário nos tempos atuais. Talvez possamos aproveitar esse momento de confinamento para provocar nosso pensamento e, quiçá, levar adiante o desejo de Michel Foucault (1995) e Gilles Deleuze (1988): resistir ao nosso presente. Como nos tornamos aquilo que somos? Como nos constituímos em oposição à natureza, num desejo desenfreado de dominá-la? Se pudermos aproveitar nosso momento histórico para pensar e resistir ao instituído, num país em constante devastação ambiental, talvez possamos produzir modos de vida que nos levem a potência da criação de outras experimentações na relação com a natureza. Dar vazão aos múltiplos modos de sentirmo-nos pertencentes a esse coletivo de humanos e não-humanos. Que efeitos podem ser gerados daí? Como a educação ambiental e nós, professores, podemos resistir a esse presente e dar a vez a experimentações de outros modos de vivermos nesse mundo? É dessa resistência que talvez emerja alguma possibilidade de criação. É Deleuze que lembra: “um criador só faz aquilo que tem absoluta necessidade” (1992). Se o desejo de criação se faz em nós, parece termos cavado espaço para pensar educações ambientais outras, que nos joguem para o exercício do pensamento, unida à filosofia e à arte, para elaboração de outros mundos possíveis. Mundo outros, mundos que nos provoquem a colocar em xeque o agronegócio, o desmatamento, o desenvolvimento sustentável. Mundos outros que nos façam ver a grande separação que a Modernidade criou entre humanos e não-humanos, entre aquilo que instituímos como mais necessário, mais valoroso e o resto... É daí que a resistência ao presente pode nos potencializar para pensar a nossa atualidade, para exercer em nós, uma e outra vez, uma recusa a perpetuarmos a dominação da natureza.
Humanos e não-humanos, enquanto atores que compõem a rede na qual nos movimentamos, são elementos fundamentais para entendermos nossas relações modernas, que insistem em hierarquizar os seres que vivem no mundo. Talvez pudéssemos pensar em educações ambientais outras, levando a cabo o propósito de uma ecologização, pensada por Latour (2016). Sujeito e objeto se confundem, criam alianças, desestabilizam lugares privilegiados. Quem sabe pudéssemos fazer dessa proposição ecológica “um instrumento de diagnóstico, de criação e de resistência” à cisão moderna? (STENGERS, 2002, p.186). Sociedade e Natureza tomadas como um coletivo, como um outro modo de experimentarmos o mundo. Talvez daí emerja alguma potência de criação de educações ambientais outras, provocativas ao instituído, às verdades educacionais e políticas que se alojam nos nossos modos de existir e conviver com o mundo que habitamos.
Que nesse momento de pandemia, de confinamento de nossos corpos, possamos expandir nossos pensamentos, potencializando nossos modos de vida. Que possamos resistir ao nosso presente, exercitando uma prática política que coloque em suspeita a prática governamental que ratifica a dualidade moderna, encarnada na supremacia do humano e da economia. Façamos da educação ambiental um exercício político de resistir às verdades que nos aprisionam a um único modo de vida: o moderno. Será possível fazer desse tempo pandêmico, um tempo de resistência e criação? Exercitemos nosso pensamento.
Referências
DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1988.
________. O ato de criação. Edição brasileira: Folha de São Paulo, 27/06/1999. Disponível em http://escolanomade.org/wpcontent/
downloads/deleuze_ato_de_criacao.pdf Acesso em 21 jul.2017.
FOUCAULT, Michel. O Sujeito e o Poder. Apêndice da 2ª edição. Michel Foucault entrevistado por Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow. In.: DREYFUS, Hubert e RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1995.
LATOUR, B. Cogitamus: seis cartas sobre humanidades científicas. São Paulo: Editora 34, 2016.
STENGERS, I. A invenção das ciências modernas. São Paulo: Editora 34, 2002.
1 Professora Associada III da Universidade federal do Rio Grande – FURG. Professora permanente do PPG Educação Ambiental e do PPG Educação em Ciências da mesma Universidade. Líder do Grupo de Estudos Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia – GEECAF. Coordenadora do GT 22 da ANPED. Bolsista Produtividade 2 do CNPq.
2 Professora Adjunta IV da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (Departamento de Biologia Geral). Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma Universidade. Líder do Grupo de Pesquisa Entre-mundos: ecologias, pedagogias, culturas. Vice-Coordenadora do GT 22 da ANPED.