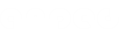Pedro Angelo Pagni (Unesp) é autor do artigo "A emergência do discurso da inclusão escolar na biopolítica: uma problematização em busca de um olhar mais radical" (clique aqui para ler), destaque da edição n°68 da Revista Brasileira de Educação (RBE) da ANPEd. Confira entrevista cedida ao portal.
Considerando o momento político atual, como você observa a atuação do governo para que as políticas inclusivas não continuem a repercutir o “exercício de poder normativo” existente, que estabelece padrões normativos, pautados em regimes de verdade únicos, e que apenas inclui aqueles considerados diferentes, mas jamais possibilita que sejam atores ou sujeitos?
Eu poderia responder de dois pontos de vistas distintos a questão. O primeiro apenas sinalizando que uma das primeiras medidas do governo interino, depois oficializado, foi o de enxugar as secretarias e ministérios, começando pela Secretaria de Direitos Humanos. Por si só, essa reforma política e administrativa iniciada antes mesmo do impedimento da presidenta Dilma já dava indicativos de um retrocesso claro diante das políticas afirmativas e de inclusão social. Contudo, foram os retrocessos provenientes das medidas posteriores, que claramente deixaram de lado qualquer preocupação com a inclusão social para privilegiar determinados setores da economia e dar voz a alguns setores reacionários, como os que apoiam a chamada “escola sem partido”, cuja tendência remonta a uma concepção de educação pré-moderna, fundamentalista ou, como prefiro, de partido único. Nessa conjuntura atual, embora as práticas políticas mais cerceadoras se dirijam às questões de gênero – assumindo uma clara posição heteronormativa –, a possibilidade de que o/as deficientes saírem de sua condição de elementos para serem reconhecidos como atores me parece bastante remota. Algo que vinha sendo difícil pelas políticas de inclusão social empreendidas nos Governos do PT, nessa conjuntura, me parece que se torna muito mais difícil, salvo se considerarmos as formas de organização do/as próprio/as deficientes e particularmente a sua atuação em lutas transversais, que fogem à lógica identitária. Nesse caso, penso que, numa conjuntura em que seria mais fácil serem reconhecidos como sujeitos à pena alheia como há décadas passadas, dar visibilidade a essas lutas e aquela organização me parecem estratégico para evidenciar alguns focos de resistências ainda pouco explorados e uma militância que ocorre nessa esfera micropolítica.
Em seu artigo você problematiza o interesse da genética, que pode possibilitar mapeamento de indivíduos considerados de risco, e muitas vezes é assegurado pela a ciência econômica “auxilia a naturalizar a vida e despolitizar as relações de poder que a compreendem, assumindo uma das formas de fascismo atual quando seu uso extremado justifica as exclusões de certas deficiências e déficits, apoiando certos estados de exceção”. Como você avalia a segurança dos debates sobre inclusão escolar que procuram romper com o “exercício de poder normativo” em um momento em que discursos sobre o empreendedorismo e políticos que se nomeiam “não políticos” estão em evidência e fortalecidos?
Considero que o exercício do poder normativo é uma característica da escola moderna, assumindo essa feição atual que você menciona e cujo funcionamento se assemelha a uma lógica empresarial. Pior, esse paradigma, que antes servia à iniciativa privada, tornou-se modelo para a escola pública e as políticas estatais têm se encaminhado nessa direção. Na atual conjuntura política, em vistas a esvaziar a participação de atores provenientes dos sindicatos de docentes e de movimentos sociais, praticada pelos Governos anteriores, se elege como interlocutores exemplos empreendedores com sucesso na educação privada, técnicos ou especialistas com propostas supostamente destituídas de qualquer posicionamento ideológico. Essa me parece ser a estratégia do governo atual para a área de educação e nela o que se vê é uma tendência em endurecer o olhar sobre as possibilidades de qualquer ruptura, seja com o atual exercício do poder normativo, seja com a ordem institucional ou hierárquica de competências. Isso significa que os debates sobre as formas de inclusão que emerge transversalmente ao currículo e às práticas formais da escola ou, como prefiro chamar, esse ethos que produz formas de vida comuns não estão salvaguardadas, sequer com uma eventual sensibilidade dos atores dessa instituição, já que agem com a frieza de técnicos, muito menos de um trabalho reflexivo mais profundo, que os conduziria a uma maior abertura as diferenças por elas produzidas. Se em outras circunstâncias e contextos históricos ganharam mais visibilidade - como na última década -, no presente parecem voltar a ser obscurecidos por uma agenda que elege a eficiência na aquisição de competências e a avaliação de capacidades pelos organismos internacionais como de suma importância. No entanto, como foi na invisibilidade que essas formas de vida comum se formaram, ganhando força e se expressando publicamente em redes ou como comunidades mais ou menos organizadas (de surdos, de autistas, de deficientes físicos ou intelectuais, etc.), pode ser que as suas práticas não sejam refreadas nem intimidadas pelas medidas do atual governo. Embora estas últimas tornem as lutas dessas comunidades ou dessas associações em rede mais difíceis – especialmente, no que se refere à sua possibilidade de ser reconhecida pelos demais –, elas irão continuar a ocorrer, por mais ingênuo que possa parecer, porque já estão agregadas a esse ethos denominado deficiente e as suas formas de vida. Talvez, só tenham mais dificuldade para que as rupturas que produzem com esse determinado exercício do poder normativo tenham um alcance mais amplo no âmbito institucional e na vida pública, devendo se associar como de praxe a outras lutas e movimentos sociais tal propósito: algo que também dependerá das estratégias e das táticas de seus principais atores – o/as deficientes e, em algum caso, com o auxílio de seu entorno familiar – e da sua capacidade dessas alianças.
Há diferença na aceitação de projetos inclusivos relacionados a deficiências distintas? Por quê?
Não saberia responder a essa questão de modo mais categórico, salvo com algumas impressões gerais [de meu engajamento em lutas como pai de uma criança com SD, de minha presença constante ao lado dela na escola e desse lugar que me faz mobilizar os recursos teóricos e emocionais adquiridos em minha formação tanto política quanto específica, na área de Filosofia da Educação]. É bastante relativo o que denomina de “aceitação”. Há determinados deficiências como a intelectual, que são mais temíveis no presente, do que outras, como as associadas aos déficits motores, visuais ou auditivos. Isso porque o nosso mundo é numa lógica cognitivista e numa subjetividade racionalista. Contudo, também se pode dizer que se só existe comunidade por meio da comunicação e esta, por sua vez, se dá unicamente por meio da linguagem articulada. Sendo assim, as comunidades surdas estariam excluídas de qualquer comunidade ou vida pública. E assim por diante. Contudo, ao continuar o diagnóstico esboçado no artigo publicado na RBE, em outro recente trabalho publicado na Childhood and Philosophy, argumentei que, num contexto em que as políticas públicas aspiram evitar a deficiência para programar a eficiência e em que a identidade subjetiva se restringiu ao corpóreo, alguns tipos de chamadas deficiências acabam se supervalorizando para o exercício de determinadas funções profissionais e como modelo identitário. É o caso o autista de altas habilidades que tem sido evidenciado, como sugere Francisco Ortega, como um exemplo para o desempenho de determinadas funções profissionais nas empresas de informática ou o caso da mutilação de dedos, deformações físicas provocadas por alargadores, piercings, etc, que são utilizados por alguns indivíduos em vistas a demarcar sua identidade, aproximando-se de algumas características de deficientes físicos. Dessa forma se percebe que a aceitação depende, como em qualquer situação no modo de produção capitalista, do status social e do lugar ocupado nas relações de poder, assim como as condições de sua exclusão, não sendo relevantes a meu juízo somente as características de um tipo particular de deficiência.
Atualmente projetos baseados no programa Escola Sem Partido tem sido implementados em diferentes municípios, qual a relação desses projetos com a inclusão escolar ao pensar a formação da juventude?
Procurei argumentar em uma passagem no artigo publicado na RBE que, caso se considere que o papel da escola no neoliberalismo seria se ocupar da formação do capital humano, a convivência dos demais atores da escola com o/as deficientes faria com que adquirissem uma habilidade a mais, agregando ao seu perfil uma competência que seria útil a sua atuação no mercado. Diferentemente do que alguns pais alegam, por exemplo, que o/as deficientes atrapalhariam o desempenho de seus filhos na escola, essa perspectiva biopolítica neoliberal defenderia o contrário. Pelo que conheço do programa Escola sem Partido, não me lembro de constar alguma referência à inclusão. Insisto que, talvez, a preocupação desse programa seja outra, mantendo alguma relação com a inclusão mais pela piedade religiosa do em relação a certo alinhamento ao desenvolvimento neoliberal, pois, como escrevi num artigo em co autoria com Alexandre Filordi de Carvalho e Sílvio Gallo publicado no Portal da Anped, a proposta é pré-moderna e, portanto, não chega a ser nem liberal...é quase medieval...dado seu fundamentalismo. Mas, vamos supor que considerasse qualquer possibilidade de inclusão, seguramente não seria aquela que sugiro, emergente das lutas transversais e das redes que se constituem a partir de modos éticos de vida. Isso porque, por princípio, esse programa se alguma coisa tem de atual, dentro do registro biopolítico, é se alinhar às políticas de governo das diferenças.
Você sugere como alternativa a essas práticas de inclusão escolar, pautadas sob uma lógica de biopolítica neoliberal, um projeto que estimule os alunos, chamados de normais, a aprenderem com a “convivência a deficiência de outrem e com as relações estabelecidas”, ou seja, que possibilitasse aqueles considerados diferentes do padrão normativo, a assumirem uma posição que assegure sua própria expressividade na esfera pública. Você conhece programas ou propostas de programa que tenham uma prática construída a partir dessa alternativa de inclusão escolar? Se sim, quais e como funcionam? Se não, por que a inexistência desses projetos?
Não se trata propriamente de uma proposta. Melhor seria chamá-la de programa e, particularmente, de um programa aberto que se emerge das relações intersubjetivas propiciadas pelas escolas, mas nem sempre vistas ou bem vistas pelos seus atores, em razão dos dispositivos e práticas que os enreda nessa instituição. Não conheço nenhum programa institucionalizado que funcione dessa maneira, mas tenho ouvido vários relatos de deficientes, pais e cuidadores, também de professores e de colegas que conviveram com deficientes na escola e tal convivência se tornou um acontecimento para eles, fazendo-os repensar eticamente suas próprias condutas. Tenho ouvido em minha pesquisa e ouço desde que passei a fazer parte dessa comunidade (invisível) relatos de jovens que dizem que, após dez anos de inclusão, puderam conviver com pessoas que em princípio desprezaram, mas que aos poucos aprenderam com elas a lutarem pela vida e a melhor se conduzirem, pensando eticamente em como se expor ao mundo. Outros que dizem terem aprendidos não somente a superar seus déficits, mas conviver com os mesmos, tal como essa convivência com o/as deficientes evocam. Tenho denominado esse programa, como um modo de organização em rede, nos termos esboçados por Fernand Deligny, e como uma ética da amizade, tal como desenvolvi num artigo recente, publicado na Childhood and Philosophy. Dessa perspectiva entendo que esse programa não precisa ser implementado, ele já existe, está em curso, basta apenas que os professores, diretores, funcionários, olhem bem para o seu entorno para encontrá-lo. Talvez, não tenham a sistematicidade indicada nesses artigos, mas são tão surpreendentes quanto o deslocamento que provocam nesses atores e o curto circuito que produzem em instituições como a escola, obrigando-os a olharem para além dos restritos dispositivos disciplinares e normativos existentes. Não se trata de abolir essas normas nem refundar a escola, mas criar normas mais amplas e requalificar a ação dessa instituição, fazendo dela não só um espaço de obediência, de sujeição e de servidão, como também de liberação, de criação e de produção de modos de existência outros.