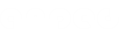A Revista Brasileira de Educação (RBE), publicada em fluxo contínuo e digital desde outubro de 2017, traz em seu volume 23, no mês de maio de 2018 o artigo "A reviravolta discursiva da Libras na educação superior", de autoria de Fagner Carniel, da Universidade Estadual de Maringá. O trabalho analisa os reflexos da inclusão de libras como disciplina obrigatória em cursos de pedagogia, licenciatura e fonoaudiologia na formação de professores. Nesta entrevista, produzimos vídeo especial com tradução em libras, com colaboração da professora Tatiane Militão de Sá, coordenadora do grupo de pesquisa NUEDIS, da Universidade Federal Fluminense, para democratizar o acesso à informação e conhecimento, veja ao final da matéria.
A Revista Brasileira de Educação (RBE), publicada em fluxo contínuo e digital desde outubro de 2017, traz em seu volume 23, no mês de maio de 2018 o artigo "A reviravolta discursiva da Libras na educação superior", de autoria de Fagner Carniel, da Universidade Estadual de Maringá. O trabalho analisa os reflexos da inclusão de libras como disciplina obrigatória em cursos de pedagogia, licenciatura e fonoaudiologia na formação de professores. Nesta entrevista, produzimos vídeo especial com tradução em libras, com colaboração da professora Tatiane Militão de Sá, coordenadora do grupo de pesquisa NUEDIS, da Universidade Federal Fluminense, para democratizar o acesso à informação e conhecimento, veja ao final da matéria.
Confira a entrevista:
Apesar do ensino de Libras ser obrigatório nos cursos de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia e ser considerada a segunda língua oficial no Brasil, os direitos da comunidade surda ainda são pouco conhecidos e efetivados. Qual a importância de se perceber a surdez como uma expressão não apenas linguística, mas também étnica (ao invés de uma deficiência auditiva)?
Esta é uma pergunta realmente instigante, tanto do ponto de vista do conhecimento quanto dos projetos éticos e políticos construídos por muitos dos coletivos de pessoas surdas da atualidade. Afinal, como podemos compreender a existência de experiências corporais, perceptivas, cognitivas e linguísticas tão diferentes daquelas que aprendemos a imaginar como sendo as “normais”?
Antes de arriscar qualquer reflexão mais detalhada sobre os significados plurais que a surdez tem adquirido na atualidade, contudo, talvez seja fundamental recordar que, mesmo enquanto docentes ou pesquisadores da educação, a maioria de nós não é uma pessoa surda e, portanto, não podemos nutrir a pretensão de ocupar o lugar dessas pessoas ou falar por elas sobre as suas próprias experiências de vida. Na verdade, ao refletir sobre a surdez, penso que precisamos reaprender a pensar com as pessoas surdas a respeito dos efeitos plurais e contraditórios que os nossos projetos de inclusão estão gerando.
Determinados discursos biomédicos, por exemplo, descreveram e ainda descrevem essas pessoas unicamente enquanto deficientes auditivas, enfatizando suas supostas “ausências” de audição e suas “limitações” cognitivas derivadas dessa “falta”. Por isso mesmo, reivindicar uma identidade linguística para as pessoas usuárias da língua de sinais representou uma estratégia política fundamental para os projetos de autonomia de certas comunidades surdas ao redor do planeta. Muitas das políticas educacionais, de outra maneira, excluíram durante muito tempo as pessoas surdas sob a justificativa de suas aparentes “incapacidades” corporais e sociais em se integrar aos sistemas “normais” de ensino. Por isso mesmo, a recente reconstrução política da surdez enquanto uma alteridade étnica possibilitou novas formas de apropriação e de participação das comunidades surdas no campo da educação.
Esses são alguns exemplos muito gerais de disputas contemporâneas que impactaram a vida de pessoas surdas ao longo das últimas décadas. No Brasil, tal “reviravolta” nos discursos a respeito da surdez e da língua de sinais ocorreu entre as décadas de 1980 e 1990 e converteu-se em uma poderosa ferramenta política para inúmeros coletivos, possibilitando, inclusive, a emergência da Lei de Libras em 2002. Tal legislação está relacionada com o direito de pessoas surdas falarem a língua de sinais em qualquer espaço público em que estiverem como uma língua nativa. Esse direito foi postulado em uma conjuntura nacional e internacional favorável ao reconhecimento das diferenças culturais de certos grupos sociais historicamente marginalizados, nas quais se atribuiu à educação um papel central na promoção da cidadania e da justiça social. Assim, a oficialização da Libras, na primeira década do século XXI, introduziu debates importantes para a inclusão social e educacional das pessoas surdas.
O artigo em questão indica que a nova geração de professores e professoras formados não se surpreenderão com a presença de pessoas surdas em sala de aula e criarão meios para promover sua inclusão. "No entanto, corre-se o risco de que suas capacidades comunicativas e pedagógicas permaneçam limitadas ao aprendizado que lhes foi oferecido - um aprendizado inicial e genérico". Neste sentido, a formação continuada de professores pode ser uma alternativa para criarmos escolas e métodos pedagógicos melhores e mais inclusivos?
De fato, enquanto educador, penso que quanto mais familiaridade tivermos com a diversidade humana, mais capacidade potencial teremos para nos relacionar com a diferença em nossas salas de aula e em nossos programas de ensino. Nesse sentido, tomar consciência da existência de pessoas surdas e de maneiras de expressão e de comunicação radicalmente diferentes daqueles que a maioria de nós está habituado, talvez possa mesmo representar um primeiro passo em direção a processos de formação docente mais sensíveis, justos e eticamente comprometidos com a inclusão educacional.
Só que nada disso nos dá garantia nenhuma de que ao reconhecer a diferença representada pela surdez iremos realmente conceber ou planejar um projeto de escolarização “melhor” ou “mais inclusivo” para essas pessoas. Isso porque, em meu ponto de vista, a inclusão não é algo que se possa resolver rapidamente, sem a participação das próprias pessoas que pretendemos incluir. Ao deixar de lado o “com” e enfatizar unicamente o “para” elas, corremos o risco de pré-estruturar a inclusão em um ou outro modelo pedagógico que, independentemente de quem será incluído, já estaria pronto.
Há sempre um perigo em se pressupor a inclusão: é o de considerar a surdez como se ela fosse uma limitação, como se ela fosse uma barreira (física, linguística ou social) que precisaria ser ultrapassada para garantir o funcionamento “eficiente” de corpos “deficientes”. Nesses casos, como já observou Camila Alves em um TEDx chamado “O perigo de pensar que as coisas existem a priori”, corremos o risco de sempre construir a acessibilidade “do” outro e nunca “com” o outro. Desse modo, mesmo com a melhor das intenções, acabamos tratando esse outro como se ele fosse isto ou aquilo, como se algo realmente lhe faltasse.
Essas maneiras de essencializar as diferenças nas universidades-fábricas contemporâneas, no entanto, talvez escondam outra coisa, algo que faz parte de nossa perspectiva cultural sobre a eficiência e a deficiência, sobre a normalidade e a anormalidade. Talvez esconda o fato de que, mesmo concordando com a inclusão, mesmo nos sensibilizando com as experiências e as trajetórias de pessoas surdas, nem sempre estamos dispostos a nos transformar no encontro com o Outro. Incluir, nesse sentido, diria respeito tão somente a transformar o Outro em nós mesmos, impedindo qualquer relação que nos torne diferentes daquilo que nós éramos antes desse encontro.
Por isso mesmo, quando penso uma formação docente mais inclusiva, não posso deixar de imaginá-la como uma relação que potencializa o contato com o Outro; permitindo, assim, o surgimento de novas histórias e contribuindo para a proliferação de outras experiências no e com o mundo.
Em 2017, o tema da redação do ENEM foi "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil", o que gerou amplos debates. Qual a importância deste tema ser inserido em uma prova nacional voltada majoritariamente para juventude brasileira?
Legitimidade, reconhecimento, visibilidade. Penso que estes são alguns dos efeitos mais evidentes daquilo que a redação do ENEM de 2017 pôde proporcionar aos coletivos engajados na defesa das pessoas surdas, da língua de sinais e de uma ideia de inclusão educacional no Brasil. Enquanto um instrumento de grande repercussão social, o ENEM não desperta a atenção apenas o público juvenil que realiza a prova. Ao ser amplamente discutido pelos meios de comunicação, pelas escolas e pelas universidades, os temas definidos para a redação realmente costumam induzir debates públicos com amplo alcance entre os mais variados setores da sociedade. Nos últimos anos, inclusive, o ENEM tem se convertido em um dos principais instrumentos educacionais de indução de uma agenda pública voltada para a cidadania, os direitos humanos e a construção de formas de justiça e equidade social.
Nesse sentido, ao tematizar a formação educacional de pessoas surdas no Brasil, o INEP, responsável pela elaboração das provas do ENEM, parece ter reconhecido e valorizado pautas históricas de muitos dos coletivos surdos do país. Pautas que estão relacionadas com as assimetrias que se produziram na sociedade, e também nas escolas, entre pessoas surdas e ouvintes, entre pessoas com e sem deficiência (ou provisoriamente sem deficiência). Mas que também reivindicam a maior divulgação dos direitos já conquistados por essas pessoas no curso da última década – sobretudo, direitos linguísticos e educacionais. A própria possibilidade, até então inédita, de realizar a prova em língua de sinais demonstra a tentativa de valorizar esses direitos e assegurar alguma acessibilidade para as pessoas surdas.
Evidentemente, a repercussão desses debates nem sempre pode ser controlada para gerar efeitos positivos para os coletivos da área. Um exemplo disso, parece ter sido a decisão do STF, que garantiu que o desrespeito aos direitos humanos não resultasse em anulação das provas. De qualquer modo, os próprios textos que acompanharam aquela redação e serviram para motivar as respostas contribuíram para colocar em circulação dados oficiais sobre a situação de estudantes surdos na educação básica, excertos significativos da Constituição Federal e da Lei de Libras, e um anúncio a respeito dos preconceitos que recorrentemente excluem essas pessoas do mercado de trabalho.
Existe perspectiva para que Libras seja inserida como componente curricular na Educação Básica? Como isso foi debatido na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)?
Já existem iniciativas que inserem a Libras como um componente curricular na Educação Básica brasileira. Um caso que tenho tentado acompanhar é o do Estado de Pernambuco. Por meio da Instrução Normativa nº 007/2017, em vigor neste ano de 2018, essa Secretaria Estadual de Educação tornou a disciplina de Libras obrigatória no Ensino Fundamental e Médio de todas as escolas do Estado e de matrícula facultativa para seus estudantes. Ainda é muito cedo para compreender os resultados concretos dessa política educacional regional. No entanto, ela sinaliza tanto a preocupação com uma maior penetração social da língua de sinais, visto que um contingente cada vez maior de estudantes poderá entrar em contato com essa língua, quanto a possibilidade de abertura de novas vagas de trabalho no magistério público, oferecendo espaço para uma maior representação de docentes surdos nas escolas pernambucanas.
Como não participei de nenhuma das equipes encarregadas pela elaboração da nova BNCC, não tenho condições de debater em profundidade as intenções e as disputas subjacentes a este novo desenho curricular para a inclusão de uma disciplina de Libras na Educação Básica brasileira. O que posso dizer é que, como um cientista social que trabalha com a formação docente, o texto da Base me preocupa em diferentes aspectos. Por um lado, ele transfere aos Estados e municípios a responsabilidade de definir seus próprios currículos e itinerários formativos, possibilitando a construção de modelos fragmentados e assimétricos de escolarização. Por outro, as dimensões críticas, sociais e políticas do processo educacional parecem ter sido fortemente suprimidas do texto da Base em favor de uma narrativa, em grande medida, despolitizada da vida social, o que não contribui para uma formação escolar engajada com a transformação das profundas desigualdades do país.
No que diz respeito à educação de pessoas surdas, especificamente, e as pessoas com deficiência, de uma maneira geral, o texto da Base informa “a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular”. Essa confusão conceitual pode representar um retrocesso significativo na educação brasileira, pois diferenciar não significa oferecer acessibilidade. Pelo contrário, historicamente a diferenciação apenas gerou a separação, a individualização, a infantilização e a marginalização de pessoas com deficiência no interior de escolas e sistemas de ensino.
Diante desse cenário, ao refletirmos sobre a BNCC penso que é importante nunca deixar de indagar: a quem interessa a reforma curricular? Penso que manter viva essa pergunta diz respeito ao que se convencionou chamar de uma “postura epistemológica”; ou melhor, a constante vigilância que nos compele a encarar as perguntas pela educação não apenas enquanto a realização do possível, daquilo que alguém observa e decide levar adiante, mas como um processo que sempre volta a nos interpelar sobre a pertinência do que nele fabricamos.